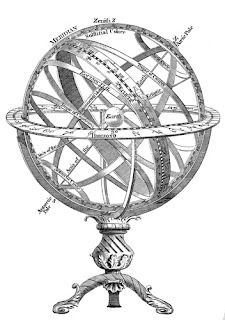Ka é a força vital[1], a chama
da vida, o que distingue as pessoas vivas das mortas, o poder que fixa e torna
o indivíduo um espírito animado[2]. Gaston
Maspero considera o ka como uma réplica do homem vivendo o mesmo período de
tempo que ele. Breatesd entendia tratar-se de uma espécie de anjo da guarda[3]. Ramsses
II da XIX dinastia é citado como tendo vinte e dois Ka. O Ba refere-se a personalidade de cada pessoa.
O Khat é o corpo físico. Ka e Ba são as duas partes da alma, em que ka é a
parte da alma que faz a conexão do corpo e ba é a essência moral das motivações,
que lhe permitia liberdade no outro mundo[4], o sopro
da vida, representado na forma de um pássaro, tal como uma cegonha que mostra a
capacidade de migrar e retornar ao mesmo ponto.[5] O Ba é
solto com a morte, e esse voa do túmulo para a região espiritual, e retorna
mais uma vez. O Ba aparece no momento da união do corpo com o Ka. O Ka e o Ba
deixam o corpo no momento da morte. O Ka viria visitar a múmia do falecido, e a
união de ba e ka forma o corpo transfigurado ou A’Akh (representado na tumba
por um íbis, trata-se do espírito liberado do corpo) após a morte.[6] O Akh é
o terceiro elemento espiritual do morto, representava o estado agraciado de um
indivíduo.[7] Akh é o
ser imortal que une o Ba, a personalidade com o Ka, a chama da vida. Nas tumbas
a existência de uma porta falsa representada em uma estela é o caminho pelo
qual Ba pode entrar e sair do túmulo.[8] Nos
hieróglifos antigos o Ba era representado por uma cegonha e posteriormente por
um pássaro com cabeça humana tendo diante de si uma lamparina. David Silverman
destaca a carcaterística de dualidade que permeava a sociedade egípcia de modo
que o que acontecia na terra, também acontecia no mundo divino: “Havia um
cargo, assim como um indivíduo que ocupava esse cargo. O cargo era uma
constante divina, sempre existiu, sempre existiria. Contudo, o indivíduo nele
que, por nascimento, posição ou poder subiu ao trono, tornava-se divino através
do ritual da coroação”.[9] Desta forma no Egito Antigo nove eram as partes que forma o ser: Ib é o
coração, shuyet a integridade do ser, Ren o nome dado no nascimento, Ba, a
personalidade, Ka, a chama da vida, Khat o corpo físico, Akh, o ser imortal,
Sahu o ser etéreo que será integrado aos outros aspectos da alma no momento do
julgamento e Sechem a parte da alma ligada ao poder vital[10].